|
Elogio da Morte
|
Não sei quem
foi que disse que a Vida é feita pela Morte. É a destruição
contínua e perene que faz a vida.
A esse
respeito, porém, eu quero crer que a Morte mereça maiores
encômios.
É ela que faz
todas as consolações das nossas desgraças; é dela que nós
esperamos a nossa redenção; é ela a quem todos os infelizes
pedem socorro e esquecimento.
Gosto da Morte
porque ela é o aniquilamento de todos nós; gosto da Morte
porque ela nos sagra. Em vida, todos nós só somos conhecidos
pela calúnia e maledicência, mas, depois que Ela nos leva, nós
somos conhecidos (a repetição é a melhor figura de retórica),
pelas nossas boas qualidades.
É inútil estar
vivendo, para ser dependente dos outros; e inútil estar
vivendo para sofrer os vexames que não merecemos.
A vida não
pode ser uma dor, uma humilhação de contínuos e burocratas
idiotas; a vida deve ser uma vitória. Quando, porém, não se
pode conseguir isto, a Morte é que deve vir em nosso
socorro.
A covardia
mental e moral do Brasil não permite movimentos de
independência; ela só quer acompanhadores de procissão, que só
visam lucros ou salários nos pareceres. Não há, entre nós,
campo para as grandes batalhas de espírito e inteligência.
Tudo aqui é feito com o dinheiro e os títulos. A agitação de
uma idéia não repercute na massa e quando esta sabe que se
trata de contrariar uma pessoa poderosa, trata o agitador de
louco.
Estou cansado
de dizer que os malucos foram os reformadores do
mundo.
Le Bon dizia
isto a propósito de Maomé, na sua Civilisation des Arabes,
com toda a razão; e não há chanceler falsificado e
secretaria catita que o possa contestar.
São eles os
heróis; são eles os reformadores; são eles os iludidos; são
eles que trazem as grandes idéias, para melhoria das condições
da existência da nossa triste Humanidade.
Nunca foram os
homens de bom senso, os honestos burgueses ali da esquina ou
das secretarias chics que fizeram as grandes reformas
no mundo.
Todas elas têm
sido feitas por homens, e, às vezes mesmo mulheres, tidos por
doidos.
A divisa deles
consiste em não ser panurgianos e seguir a opinião de todos,
por isso mesmo podem ver mais longe do que os
outros.
Se nós
tivéssemos sempre a opinião da maioria, estaríamos ainda no
Cro-Magnon e não teríamos saído das cavernas.
O que é
preciso, portanto, é que cada qual respeite a opinião de
qualquer, para que desse choque surja o esclarecimento do
nosso destino, para própria felicidade da espécie
humana.
Entretanto, no
Brasil, não se quer isto. Procura-se abafar as opiniões, para
só deixar em campo os desejos dos poderosos e
prepotentes.
Os órgãos de
publicidade por onde se podiam elas revelar, são fechados e
não aceitam nada que os possa lesar. Dessa forma, quem, como
eu nasceu pobre e não quer ceder uma linha da sua
independência de espírito e inteligência, só tem que fazer
elogios à Morte.
Ela é a grande
libertadora que não recusa os seus benefícios a quem lhe pede.
Ela nos resgata e nos leva à luz de Deus.
Sendo assim,
eu a sagro, antes que ela me sagre na minha pobreza, na minha
infelicidade, na minha desgraça e na minha
honestidade.
Ao vencedor,
as batatas!
|
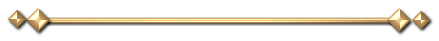
Maio
|
Estamos em
maio, o mês das flores, o mês sagrado pela poesia. Não é sem
emoção que o vejo entrar. Há em minha alma um renovamento; as
ambições desabrocham de novo e, de novo, me chegam revoadas de
sonhos. Nasci sob o seu signo, a treze, e creio que em
sexta-feira; e, por isso, também à emoção que o mês sagrado me
traz, se misturam recordações da minha meninice.
Agora mesmo
estou a lembrar-me que, em 1888, dias antes da data áurea, meu
pai chegou em casa e disse-me: a lei da abolição vai passar no
dia de teus anos. E de fato passou; e nós fomos esperar a
assinatura no Largo do Paço.
Na minha
lembrança desses acontecimentos, o edifício do antigo paço,
hoje repartição dos Telégrafos, fica muito alto, um
sky-scraper; e lá de uma das janelas eu vejo um homem
que acena para o povo.
Não me recordo
bem se ele falou e não sou capaz de afirmar se era mesmo o
grande Patrocínio.
Havia uma
imensa multidão ansiosa, com o olhar preso às janelas do velho
casarão. Afinal a lei foi assinada e, num segundo, todos
aqueles milhares de pessoas o souberam. A princesa veio à
janela. Foi uma ovação: palmas, acenos com lenço,
vivas...
Fazia sol e o
dia estava claro. Jamais, na minha vida, vi tanta alegria. Era
geral, era total; e os dias que se seguiram, dias de folganças
e satisfação, deram-me uma visão da vida inteiramente de festa
e harmonia.
Houve missa
campal no Campo de São Cristóvão. Eu fui também com meu pai;
mas pouco me recordo dela, a não ser lembrar-me que, ao
assisti-Ia, me vinha aos olhos a "Primeira Missa", de Vítor
Meireles. Era como se o Brasil tivesse sido descoberto outra
vez... Houve o barulho de bandas de música, de bombas e
girandolas, indispensável aos nossos regozijos; e houve também
préstitos cívicos. Anjos despedaçando grilhões, alegorias
toscas passaram lentamente pelas ruas. Construíram-se estrados
para bailes populares; houve desfile de batalhões escolares e
eu me lembro que vi a princesa imperial, na porta da atual
Prefeitura, cercada de filhos, assistindo àquela fieira de
numerosos soldados desfiar devagar. Devia ser de tarde, ao
anoitecer.
Ela me parecia
loura, muito loura, maternal, com um olhar doce e apiedado.
Nunca mais a vi e o imperador nunca vi, mas me lembro dos seus
carros, aqueles enormes carros dourados, puxados por quatro
cavalos, com cocheiros montados e um criado à
traseira.
Eu tinha então
sete anos e o cativeiro não me impressionava. Não lhe
imaginava o horror; não conhecia a sua injustiça. Eu me
recordo, nunca conheci uma pessoa escrava. Criado no Rio de
Janeiro, na cidade, onde já os escravos rareavam, faltava-me o
conhecimento direto da vexatória instituição, para lhe sentir
bem os aspectos hediondos.
Era bom saber
se a alegria que trouxe à cidade a lei da abolição foi geral
pelo país. Havia de ser, porque já tinha entrado na
consciência de todos a injustiça originária da
escravidão.
Quando fui
para o colégio, um colégio público, à Rua do Resende, a
alegria entre a criançada era grande. Nós não sabíamos o
alcance da lei, mas a alegria ambiente nos tinha
tomado.
A professora,
Dona Teresa Pimentel do Amaral, uma senhora muito inteligente,
a quem muito deve o meu espírito, creio que nos explicou a
significação da coisa; mas com aquele feitio mental de
criança, só uma coisa me ficou: livre! livre!
Julgava que
podíamos fazer tudo que quiséssemos; que dali em diante não
havia mais limitação aos propósitos da nossa
fantasia.
Parece que
essa convicção era geral na meninada, porquanto um colega meu,
depois de um castigo, me disse: "Vou dizer a papai que não
quero voltar mais ao colégio. Não somos todos
livres?"
Mas como ainda
estamos longe de ser livres! Como ainda nos enleamos nas teias
dos preceitos, das regras e das leis!
Dos jornais e
folhetos distribuídos por aquela ocasião, eu me lembro de um
pequeno jornal, publicado pelos tipógrafos da Casa Lombaerts.
Estava bem impresso, tinha umas vinhetas elzevirianas,
pequenos artigos e sonetos. Desses, dois eram dedicados a José
do Patrocínio e o outro à princesa. Eu me lembro, foi a minha
primeira emoção poética a leitura dele. Intitulava-se
"Princesa e Mãe" e ainda tenho de memória um dos
versos:
"Houve um
tempo, senhora, há muito já passado..."
São boas essas
recordações; elas têm um perfume de saudade e fazem com que
sintamos a eternidade do tempo.
Oh! O tempo! O
inflexível tempo, que como o Amor, é também irmão da Morte,
vai ceifando aspirações, tirando presunções, trazendo
desalentos, e só nos deixa na alma essa saudade do passado às
vezes composta de coisas fúteis, cujo relembrar, porém, traz
sempre prazer.
Quanta ambição
ele não mata! Primeiro são os sonhos de posição: com os dias e
as horas e, a pouco e pouco, a gente vai descendo de ministro
a amanuense; depois são os do Amor — oh! como se desce nesses!
Os de saber, de erudição, vão caindo até ficarem reduzidos ao
bondoso Larousse. Viagens... Oh! As viagens! Ficamos a
fazê-las nos nossos pobres quartos, com auxílio do Baedecker e
outros livros complacentes.
Obras,
satisfações, glórias, tudo se esvai e se esbate. Pelos trinta
anos, a gente que se julgava Shakespeare, está crente que não
passa de um "Mal das Vinhas" qual quer; tenazmente, porém,
ficamos a viver, esperando, esperando ... o que? O imprevisto,
o que pode acontecer amanhã ou depois. Esperando os milagres
do tempo e olhando o céu vazio de Deus ou Deuses, mas sempre
olhando para ele, como o filósofo Guyau.
Esperando,
quem sabe se a sorte grande ou um tesouro oculto no
quintal?
E maio volta
... Há pelo ar blandícias e afagos; as coisas ligeiras têm
mais poesia; os pássaros como que cantam melhor; o verde das
encostas é mais macio; um forte flux de vida percorre e anima
tudo...
O mês augusto
e sagrado pela poesia e pela arte, jungido eternamente à
marcha da Terra, volta; e os galhos da nossa alma que tinham
sido amputados — os sonhos enchem-se de brotos muito verdes,
de um claro e macio verde de pelúcia, reverdecem mais uma vez,
para de novo perderem as folhas, secarem, antes mesmo de
chegar tórrido dezembro.
E assim se faz
a vida, com desalentos e esperanças com recordações e
saudades, com tolices e coisas sensatas com baixezas e
grandezas, à espera da morte, da doce morte, padroeira dos
aflitos e desesperados...
Crônica publicada no jornal Gazeta da
Tarde, Rio de Janeiro - 04/05/1911.
|
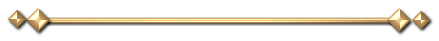
Uma
Outra
|
— É um engano
supor que o povo nosso só tenha superstições com sapatos
virados, cantos de coruja; e que só haja na sua alma crendices
em feiticeiros, em cartomantes, em rezadores, etc. Ele tem,
além dessas superstições todas, uma outra de natureza
singular, partilhada até, como as demais, por pessoas de certo
avanço mental.
Dizia-me isto,
há dias, um meu antigo companheiro de colégio que se fizera
engenheiro e andava por estes Brasis todos, vegetando em
pequenos empregos subalternos de estudos e construção de
estradas de ferro e até aceitara simples trabalhos de
agrimensor. Em encontro anterior, ele me dissera: "Antes eu
tivesse ficado nos correios, pois ganharia agora mais ou menos
aquilo que tenho ganho com o ‘canudo', e sem canseiras nem
maçadas". Quando se formou já era amanuense postal.
Tendo ele,
daquela vez, me falado em superstição nova do nosso povo que
observara, não pude conter o meu espanto e perguntei-lhe com
pressa:
— Qual é?
— Não sabe?
—
Não.
— Pois é a do
doutor.
—
Como?
— O doutor
para a nossa gente não é um profissional desta ou daquela
especialidade. É um ser superior, semidivino, de construtura
fora do comum, cujo saber não se limita a este ou aquele campo
das cogitações intelectuais da humanidade, e cuja autoridade
só é valiosa neste ou naquele mister. É onisciente, senão
infalível. É só ver como a gente do mar, do Lloyd, por
exemplo, tem em grande conta a competência especial dos seus
diretores — doutor. Todos eles são tão marítimos como um nosso
qualquer ministro da Marinha nouveau-gens, entretanto,
os lobos do mar de todas as categorias não se animam a
discutir a capacidade de seu chefe. É doutor e basta, mesmo
que seja em filosofia e letras, coisas muito parecidas com
comércio e navegação. Há o caso, que tu deves conhecer,
daquele matuto que se admirou de ver que o doutor por ele
pajeado, não sabia abrir uma porteira do caminho. Lembras-te?
Iam a cavalo ...
— Pois não!
Que doutor é esse que não sabe abrir porteira? Não foi essa a
reflexão do caboclo?
— Foi. Comigo,
aconteceu-me uma muito boa.
— Qual
foi?
— Andava eu
perdido numas brenhas com uma turma de exploração. O lugar não
era mau e até ali não houvera moléstias de vulto. O pessoal
dava-se bem comigo e eu bem com ele. Improvisamos uma aldeia
de ranchos e barracas pois o povoado mais próximo ficava
distante umas quatro léguas. Morava eu num rancho de palha com
uma espécie de capataz que me era afeiçoado. Dormia cedo e
erguia-me cedo, muito de acordo com os preceitos do falecido
Bom Homem Ricardo. Uma noite — não devia passar muito
das dez — vieram bater-me à porta. "Quem é"? perguntei. "Somos
nós". Reconheci a voz dos meus trabalhadores, saltei da rede,
acendi o candeeiro e abri a porta. "Que há"? "Seu doutô! É u
Feliço qui tá cô us óios arrivirados pra riba. Acode qui vai
morrê..." Contaram-me então todo o caso. O Felício, um
trabalhador da turma, tinha tido um ataque, ou acesso, uma
súbita moléstia qualquer e eles vinham pedir-me que acudisse o
companheiro. "Mas", disse eu, "não sou médico, meus filhos.
Não sei receitar". "Quá, seu doutô! Quá! Quem é doutô sabe um
pouco de tudo". Quis explicar a diferença que existia entre um
engenheiro e um médico. Os caipiras, porém não queriam
acreditar. Da mansidão primeira, foram se exaltando, até que
um disse a outro um tanto baixo, mas eu ouvi: "A minha vontade
é aprontá esse marvado! Ele u qui não qué é i. Deixa ele!"
Ouvindo isto, não tive dúvidas. Fui até ao barracão do
Felício, fingi que lhe tomava o pulso, pois nem isso sabia,
determinei que lhe dessem um purgante de óleo e...
— Eficaz
medicina! refleti.
— ... depois
do efeito, umas cápsulas de quinino que sempre tinha
comigo.
— O homem
curou-se?
—
Curou-se.
— Ainda bem
que o povo tem razão.
Crônica publicada na revista Careta,
Rio de Janeiro - 06/03/1920
|
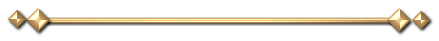
O
Homem que Sabia Javânes
|
Em uma
confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro contava eu as
partidas que havia pregado às convicções e às
respeitabilidades, para poder viver. Houve mesmo uma dada
ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a
esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança
obter dos clientes, que afluíam ao meu escritório de
feiticeiro e adivinho. Contava eu isso.
O meu amigo
ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas
vivido, até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os
copos, observou a esmo:
Tens levado
uma vida bem engraçada, Castelo!
Só assim se
pode viver... Isto de uma ocupação única: sair de casa a
certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei
como me tenho agüentado lá, no consulado!
Cansa-se; mas
não é isso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido
tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e
burocrático.
Qual! Aqui
mesmo, meu Castro, se podem arranjar belas páginas de vida.
Imagina tu que eu já fui professor de javanês?
— Quando?
Aqui, depois que voltaste do consulado?
Não; antes. E,
por sinal, fui nomeado cônsul por isso.
Conta lá como
foi. Bebes mais cerveja?
Bebo.
Mandamos
buscar mais outra garrafa, enchemos os copos, e
continuei:
Eu tinha
chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria.
Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber
onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o
anúncio seguinte:
"Precisa-se de
um professor de língua javanesa. Cartas etc".
Ora, disse cá
comigo, está ali uma colocação que não terá muitos
concorrentes; se eu capiscasse quatro palavras, ia
apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas, sempre
imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando
de bonde e sem encontros desagradáveis com os "cadáveres".
Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem
que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao
porteiro, recebi a senha e subi.
Na escada,
acudiu-me pedir a Grande Encyclopédie, letra J, a fim de
consultar o artigo relativo a Java e à língua javanesa. Dito e
feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era
uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e
o javanês, língua aglutinante do grupo malaio-polinésio,
possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres
derivados do velho alfabeto hindu.
A Enciclopédia
dava-me indicação de trabalhos sobre a tal língua malaia e não
tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua
pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e
mastigando letras.
Na minha
cabeça dançavam hieróglifos; de quando em quando consultava as
minhas notas; entrava nos jardins e escrevia estes calungas na
areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a
escrevê-los.
À noite,
quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar
indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no
quarto a engolir o meu "a-b-c" malaio, e, com tanto afinco
levei o propósito que, de manhã, o sabia perfeitamente.
Convenci-me de que aquela era a língua mais fácil do mundo e
saí; mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado
dos aluguéis dos cômodos:
Senhor
Castelo, quando salda a sua conta?
Respondi-lhe
então eu, com a mais encantadora esperança:
— Breve...
Espere um pouco... Tenha paciência... Vou ser nomeado
professor de javanês, e... Por aí o homem
interrompeu-me:
— Que diabo
vem a ser isso, Senhor Castelo?
Gostei da
diversão e ataquei o patriotismo do homem.
É uma língua
que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é?
Oh! alma
ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com
aquele falar forte dos portugueses:
— Eu cá por
mim, não sei bem; mas ouvi dizer que são umas terras que temos
lá para os lados de Macau. E o senhor sabe disso, Senhor
Castelo?
Animado com
esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o
anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao
professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei
pelo Jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à
biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz
grandes progressos nesse dia, não sei se por julgar o alfabeto
javanês o único saber necessário a um professor de língua
malaia ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e
história literária do idioma que ia ensinar.
Ao cabo de
dois dias, recebia eu uma carta para ir falar ao Doutor Manuel
Feliciano Soares Albernaz, Barão de Jacuecanga, à rua Conde de
Bonfim, não me recordo bem que número. É preciso não te
esqueceres de que entrementes continuei estudando o meu
malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei
sabendo o nome de alguns autores, também perguntar responder
"como está o senhor"? e duas ou três regras de gramática,
lastrado todo esse saber com vinte palavras do
léxico.
Não imaginas as grandes dificuldades
com que lutei para arranjar os quatrocentos réis da viagem! É
mais fácil — pode ficar certo — aprender o javanês... Fui à
pé. Cheguei suadíssimo; e, com maternal carinho, as anosas
mangueiras, que se perfilavam em alameda diante da casa do
titular, me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em
toda minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir
simpatia pela natureza...
Era uma casa enorme que
parecia estar deserta; estava maltratada, mas não sei por que
me veio pensar que nesse mau tratamento havia mais desleixo e
cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não
era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado,
daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam
desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou
malcuidadas.
Olhei um pouco
o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o
carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os
crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de
cores mortiças. Bati. Custaram-me a abrir. Veio, por fim, um
antigo preto africano, cujas barbas e cabelos de algodão davam
à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e
sofrimento.
Na sala, havia
uma galeria de retratos: arrogantes senhores de barba em colar
se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, e
doces perfis de senhoras, em bandós, com grandes leques,
pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos
vestidos à balão; mas, daquelas velhas coisas, sobre as quais
a poeira punha mais antigüidade e respeito, a que gostei mais
de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia,
como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a
ingenuidade do desenho e aquele fosco brilho de luar,
diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de
criança, a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos
desiludidos...
Esperei um
instante o dono da casa. Tardou um pouco. Um tanto trôpego,
com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o
simonte de antanho, foi cheio de respeito que o vi chegar.
Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o
discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja
velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de
augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei.
Eu sou —
avancei — o professor de javanês, de que o senhor disse
precisar.
Sente-se —
respondeu-me o velho. — O senhor é daqui, do Rio?
Não, sou de
Canavieiras.
Como? — fez
ele. — Fale um pouco alto, que sou surdo.
Sou de
Canavieiras, na Bahia — insisti eu.
Onde fez os
seus estudos?
Em São
Salvador.
Em onde
aprendeu o javanês? — indagou ele, com aquela teimosia
peculiar aos velhos.
Não contava
com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira.
Contei-lhe que meu pai era javanês. Tripulante de uma navio
mercante, viera ter à Bahia, estabelecera-se nas proximidades
de Canavieiras como pescador, casara, prosperara e fora com
ele que aprendi javanês.
E ele
acreditou? E o físico? — perguntou meu amigo, que até então me
ouvira calado.
Não sou —
objetei — lá muito diferente de um javanês. Estes meu cabelos
corridos, duros e grossos e a minha pele basané podem dar-me
muito bem o aspecto de um mestiço malaio... Tu sabes bem que,
entre nós, há de tudo: índios, malaios, taitianos, malgaches,
guanches, até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de
fazer inveja ao mundo inteiro.
Bem — fez o
meu amigo —, continua.
O velho —
emendei eu — ouviu-me atentamente, considerou demoradamente o
meu físico, e pareceu que me julgava de fato filho de malaio,
e perguntou-me com doçura:
Então está
disposto a ensinar-me javanês?
— A resposta
saiu-me sem querer. Pois não.
— O senhor há
de ficar admirado — aduziu o Barão de Jacuecanga — que eu,
nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa,
mas...
— Não tenho
que admirar. Têm-se visto exemplos e exemplos muito
fecundos...
— O que eu
quero, meu caro senhor...?
— Castelo —
adiantei eu.
— O que eu
quero, meu caro Senhor Castelo, é cumprir um juramento de
família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do
Conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I, quando
abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em
língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um hindu
ou siamês que lho dera em Londres, em agradecimento a não sei
que serviço prestado por meu avô. Ao morrer meu avô, chamou
meu pai e lhe disse: "Filho, tenho este livro aqui, escrito em
javanês. Disse-me que mo deu que ele evita desgraças e traz
felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo
caso, guarda-o; mas, se queres que o fado que me deitou o
sábio oriental se cumpra, faze com que teu filho o entenda,
para que sempre a nossa raça seja feliz." Meu pai — continuou
o velho barão — não acreditou muito na história; contudo
guardou o livro. Às portas da morte, ele mo deu e disse-me o
que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do
livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até
esquecer-me dele; mas, de uns tempos a esta parte, tenho
passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a
minha velhice que me lembrei do talismã da família. Tenho que
o ler, que o compreender, e não quero que os meus últimos dias
anunciem o desastre da minha posteridade; e, para entendê-lo,
é claro que preciso entender o javanês. Eis aí.
Calou-se e
notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou
discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o livro.
Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e
explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe
restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida
a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e
oscilante.
Veio o livro.
Era um velho calhamaço, um inquarto antigo, encadernado em
couro, impresso em grandes letras, em um papel amarelado e
grosso. Faltava a folha do rosto e por isso não se podia ler a
data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio,
escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do
príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito.
Logo informei
disso o velho barão que, não percebendo que eu tinha chegado
aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber
malaio. Estive ainda folheando o cartapácio, à laia
de quem sabe
magistralmente aquela espécie de vasconço, até que afinal
contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me
a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano.
Dentro em
pouco, dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão
diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a
escrever nem sequer quatro letras. Enfim, com metade do
alfabeto levamos um mês e o Senhor Barão de Jacuecanga não
ficou lá muito senhor da matéria: aprendia e
desaprendia.
A filha e o
genro ( penso que até aí nada sabiam da história do livro)
vieram a ter notícias do estudo do velho; não se incomodaram.
Acharam graça e julgaram coisa boa para distraí-lo.
Mas com que tu
vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que
o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa
única! Ele não se cansava de repetir: "É um assombro! Tão
moço! Se eu soubesse isso, ah! onde estava!"
O marido de
Dona Maria da Glória ( assim se chamava a filha do barão), era
desembargador, homem relacionado e poderoso; mas não se pejava
em mostrar diante de todo o mundo a sua admiração pelo meu
javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim
de dois meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe
traduzisse, um dia sim outro não, um trecho do livro
encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele; nada se opunha
que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga
do estudo e cumpria o encargo.
Sabes bem que
até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem
tolas e impingi-as ao velhote como sendo do crônicon. Como ele
ouvia aquelas bobagens!... Ficava extático, como se estivesse
a ouvir palavras de um anjo. E eu crescia a seus olhos! Fez-me
morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o
ordenado. Passava, enfim, uma vida regalada.
Contribuiu
muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um
seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho
atribuiu a coisa ao meu javanês; e eu estive quase a crê-lo
também.
Fui perdendo
os remorsos; mas, em todo o caso, sempre tive medo de que me
aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio.
E esse meu temor foi grande, quando o doce barão me mandou com
uma carta ao Visconde de Caruru, para que me fizesse entrar na
diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções: a minha fealdade, a
falta de elegância, o meu aspecto tagalo. — "Qual! retrucava
ele. Vá, menino; você sabe javanês!" Fui. Mandou-me o visconde
para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações.
Foi um sucesso.
O diretor
chamou os chefes de seção: "Vejam só, um homem que sabe
javanês — que portento!"
Os chefes da
seção levaram-me aos oficiais e amanuenses e houve um destes
que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E
todos diziam: "Então sabe javanês? É difícil? Não há quem o
saiba aqui!"
O tal
amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então: "É verdade,
mas eu sei canaque. O senhor sabe?" Disse-lhe que não e fui à
presença do ministro.
A alta
autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o
pince-nez no nariz e perguntou: " Então, sabe javanês?"
Respondi-lhe que sim; e, à sua pergunta onde o tinha
aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. "Bem,
disse-me o ministro o senhor não deve ir para a diplomacia; o
seu físico não se presta... O bom seria um consulado na Àsia
ou Oceania. Por ora, não há vaga, mas vou fazer uma reforma e
o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu
ministério e quero que, para o ano, parta para Bâle, onde vai
representar o Brasil no congresso de Lingüística. Estude, leia
o Hove-Iacque, o Max Müller, e outros!"
Imagina tu que
eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria
representar o Brasil em um congresso de sábios.
O velho
barão veio a morrer, passou o livro ao genro para que o
fizesse chegar ao neto, quando tivesse a idade conveniente e
fez-me uma deixa no testamento.
Pus-me com afã no
estudo das línguas malaio-polinésias; mas não havia
meio!
Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha
energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas
esquisitas. Comprei livros, assinei revistas: Revue
Anthropologique et Linguistique, Proceedings of the
English-Oceanic Association, Archivo Glottologico Italiano, o
diabo, mas nada! E a minha fama crescia. Na rua, os informados
apontavam-me, dizendo aos
outros: "Lá vai o sujeito que
sabe javanês." Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me
sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de
Sonda. Recebia cartas dos eruditos do
interior, os
jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de
alunos sequiosos de entender o tal javanês. A convite da
redação, escrevi, no Jornal do Commércio, um artigo
de
quatro colunas sobre a literatura javanesa antiga e
moderna...
— Como, se tu nada sabias? — interrompeu-me
o atento Castro.
— Muito simplesmente: primeiramente,
descrevi a ilha de Java, com o auxílio de dicionários e umas
poucas de geografia, e depois citei a mais não poder.
—
E nunca duvidaram? — perguntou-me ainda o meu amigo.
—
Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu
um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava em
língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém o
entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a
minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas
fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do
cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia
de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês —
uf!
Chegou, enfim, a época do congresso, e lá fui para
a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às sessões
preparatórias. Inscreveram-me na seção do tupi-guarani e eu
abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de
Bâle o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando
voltei, o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela
seção; não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por ser
eu americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a
seção do tupi-guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda
não pude escrever as minhas obras sobre o javanês, para lhe
mandar, conforme prometi.
Acabado o congresso, fiz
publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bâle, em Berlim,
em Turim e em Paris, onde os leitores de minhas obras me
ofereceram um banquete, presidido
pelo Senador Gorot.
Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me
foi oferecido, cerca de dez mil francos, quase toda a herança
do crédulo e bom Barão de Jacuecanga.
Não perdi meu
tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional e, ao
saltar no cais Pharoux, recebi uma ovação de todas as classes
sociais e o presidente da República, dias depois, convidava-me
para almoçar em sua companhia.
Dentro de seis meses fui
despachado cônsul em Havana, onde estive seis anos e para onde
voltarei, a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da
Malaia, Melanésia e Polinésia.
— É fantástico —
observou Castro, agarrando o copo de cerveja.
— Olha:
se não fosse estar contente, sabes que ia ser?
—
Quê?
— Bacteriologista eminente. Vamos?
— Vamos.
|
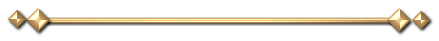
|
Lima
Barreto
(1881-1922)
Afonso Henriques
de Lima Barreto
(1881-1922), romancista, contista e cronista brasileiro.
Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, onde faleceu. Com uma linguagem
simples - e, para recriar a fala popular, às vezes agramatical
-, enfocou o subúrbio carioca, os marginalizados sociais, a
hipocrisia dos burgueses, dos políticos e dos acadêmicos
("Quanto mais incompreensível é ela [a língua], mais admirado
é o escritor que a escreve, por todos que não lhe entenderam o
escrito."). Acusado de desleixado, vítima de preconceito e
privação, Lima Barreto teve um destino trágico devido ao
alcoolismo. Entre romances, contos, sátiras políticas e
literárias, artigos, crônicas e memórias, deixou-nos, entre
outros, Recordações do escrivão Isaías Caminha (1909),
Triste fim de Policarpo Quaresma (1915), Os
bruzundangas (1923), Impressões de leitura
(crítica, 1955), Cemitério dos vivos (1956).
Fonte: Enciclópedia
Encarta - 2000 (Microsoft)
| |


![]()


![]()
![]()